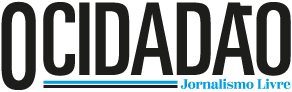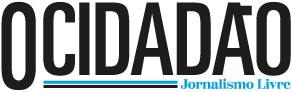Nos anos 80, dançava-se “Kyrie” sem se saber grego, sem saber teologia, sem sequer perguntar o que aquelas palavras queriam dizer. Eu, ateu, sentia apenas a vibração: o ritmo pulsante, o refrão que se enroscava na pele, a melodia que parecia sair do próprio corpo em movimento. Não era fé o que me movia, mas uma alegria estranha — quase mística, embora desprovida de deuses — que encantava em frases como: “Somewhere between the soul and soft machine / Is where I find myself again.” Entre a alma e a máquina mole, entre o anseio e o algoritmo, ali me reencontrava.
Hoje, décadas depois, quando o mundo se acelera em redes sem rosto e em discursos vazios, regressa com força o eco daquela antiga súplica grega — não como oração a um céu distante, mas como um chamamento íntimo à compaixão, à lucidez, à humanidade. Kyrie nunca foi só uma canção. Foi, e continua a ser, um espelho: o do nosso desejo de sermos vistos, compreendidos, poupados — mesmo quando já não acreditamos em quem possa ter o poder de nos poupar.
A expressão “soft machine” — máquina mole, fraca — que a canção cita com aparente naturalidade, vem de um território bem menos dançante: do romance experimental The Soft Machine (1961), do escritor, pintor e crítico americano William S. Burroughs. Para ele, o corpo humano é uma “máquina mole” porque está sujeito a forças invisíveis que o controlam: o poder, a linguagem, a droga, o desejo, os códigos sociais. Burroughs via a sociedade como uma rede de “vírus de controlo” que nos programam, nos colonizam por dentro, apagando a liberdade com a ilusão de escolha. A “máquina mole” não é apenas o corpo biológico; é o corpo capturado, domesticado, manipulado — antecipando, com perturbadora lucidez, o nosso presente de algoritmos preditivos, vigilância digital e identidades fabricadas para consumo. É nesse entrelaçamento entre a alma — sede do desejo autêntico — e a máquina mole — campo de batalha da manipulação — que a canção da banda californiana Mr. Mister nos convida a reencontrar-nos.
Essa expressão — Kyrie eleison, “Senhor, tende piedade” — é uma das mais antigas da tradição cristã, mas a sua força ultrapassa fronteiras confessionais. É uma súplica nua, despojada de dogma, que brota não da certeza, mas da necessidade. Não pede milagres, não exige recompensas; apenas implora: tem piedade. E há algo profundamente humano nesse gesto — não o gesto do crente, mas o do ser que tropeça, que se perde, que se cansa. Por isso mesmo, ainda que eu não invoque nenhum Senhor, reconheço nessa frase uma verdade ética: a de que todos, cedo ou tarde, precisamos que alguém — ou algo — nos poupe da dureza do mundo, da rigidez do julgamento, da solidão do erro. Pedir piedade é, antes de tudo, reconhecer-se vulnerável. E só quem se reconhece vulnerável pode, um dia, oferecer misericórdia.
É exatamente essa dimensão que nos leva aos Padres do Deserto — aqueles monges que, a partir do século IV, fugiram não do mundo, mas da ilusão de que podiam viver sem confrontar o próprio abismo interior. Para eles, a oração não era um diálogo decorado, mas um exercício de escuta radical. Muitos repetiam frases curtas, como Kyrie eleison, não para convencer Deus, mas para desmontar em si mesmos a soberba da palavra fácil. A repetição tornava-se respiração: inspiravam humildade, expiravam ilusão. Não procuravam respostas, mas presença — e essa presença era, muitas vezes, o silêncio que segue a súplica.
Curiosamente, a canção dos Mr. Mister, apesar do seu ambiente de sintetizadores dos anos 80 e batidas dançantes, toca nesse mesmo nervo. Entre linhas sobre poder, guerra e perda (“Even when we win, we feel like losers”), há um apelo quase desesperado por algo que nos salve não do inferno eterno, mas da frieza do presente. A “máquina mole” a que a letra se refere — agora iluminada pela visão crítica de Burroughs — é o corpo humano submetido a lógicas impessoais: do mercado, da guerra, da tecnologia, da indiferença. E é precisamente nesse espaço tenso — entre a alma que anseia por sentido e a máquina que a administra — que o eu se reconstrói. Kyrie eleison, nesse contexto, não é um grito ao céu, mas um sussurro ao próximo: “Não me julgues. Compreende-me. Poupa-me.”
Hoje, num tempo em que tudo é acelerado, mediado, editado e construído artificialmente, essa súplica antiga soa mais urgente do que nunca. Não precisamos de mais certezas, mas de mais escuta. Não precisamos de mais julgamentos, mas de mais silêncios acolhedores. A energia de Kyrie eleison reside precisamente nisso: na capacidade de suspender o julgamento e abrir espaço para a fragilidade — a do outro, a nossa. E os Padres do Deserto sabiam isso melhor do que ninguém: que o verdadeiro deserto não está lá fora, nas areias do Egito, mas aqui, no intervalo entre uma palavra dita e outra retida — onde, por um instante, escolhemos entre condenar ou poupar.
Assim, Kyrie eleison permanece. Não como relíquia de um culto, mas como compasso ético. Não como fórmula mágica, mas como convite à humanidade. E mesmo quem, como eu, dançou essa canção sem nunca ter orado, carrega-a agora como um eco — suave, persistente, necessário — de tudo aquilo que ainda esperamos uns dos outros: que, além do nosso erro, da nossa dor, da nossa confusão, alguém possa, simplesmente, ter piedade.
Professor, Poeta e Formador